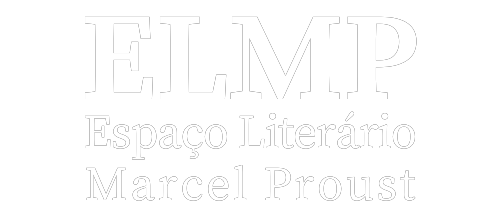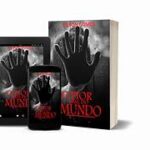“Memorial de Aires” foi publicada em 1908, poucos meses antes do falecimento de Machado de Assis. O então viúvo era um homem solitário, bastante doente e desiludido com a vida, revivendo lembranças de um passado feliz compartido em trinta e cinco anos com a esposa, Dona Carolina.
Machado aborda em seus últimos trabalhos essencialmente temas existenciais como o amor, a paixão, a solidão, a velhice e a morte, assim como impressões e reflexões sobre o tédio, a ausência de sentido e horizonte da própria vida.
Obra semiautobiográfica, não por acaso D. Carmo, esposa do banqueiro Aguiar e o “Memorial de Aires”, assim como o narrador, o conselheiro Marcondes de Aires, possuem as mesmas iniciais de sua defunta esposa e dele mesmo.
Ao visualizar a viúva Noronha, Fidélia, o narrador, viúvo e aos 62 anos, tal qual Machado, sente-se tocar pela beleza da mulher. Sua irmã Rita, que o acompanha, lhe insinua uma paixão outonal, ao que ele responde a la Shellei: “I can give not what men call love.”Só lhe cabia, naquela altura da vida, uma paixão estética.
E, a seguir, nos traz uma deliciosa reflexão a respeito do nome dado às pessoas na pia batismal: “Antigamente, quando eu era menino, ouvia dizer que às crianças só se punham nomes de santos ou santas. Mas Fidélia…? Não conheço santa com tal nome, ou sequer mulher pagã. Terá sido dado à filha do barão, como a forma feminina de Fidélio, em homenagem a Beethoven? Pode ser; mas eu não sei se ele teria dessas inspirações e reminiscências artísticas. Verdade é que o nome da família que serve ao título nobiliário, Santa-Pia, também não acho na lista dos canonizados, e a única pessoa que conheço, assim chamada, é a de Dante: Ricorditi di me, che son la Pia”.
E conclui o raciocínio de um modo absolutamente futurista: “Parece que já não queremos Anas nem Marias, Catarinas nem Joanas, e vamos entrando em outra onomástica, para variar o aspecto às pessoas. Tudo serão modas neste mundo, exceto as estrelas e eu”.
Fidélia, mesmo sem chorar, mantém um luto fechado pela morte do marido, que ao conhecer Tristão, se abrirá para um novo amor. Diz Aires: “Não gosto de lágrimas, ainda em olhos de mulheres, sejam ou não bonitas; são confissões de fraqueza, e eu nasci com tédio aos fracos. Ao cabo, as mulheres são menos fracas que os homens — ou mais pacientes, ou mais capazes de sofrer a dor e a adversidade…”
A inserção histórica do último romance machadiano.
O período de tempo reportado na obra foram os anos de 1888 e 1889. A presença aparentemente tênue da Abolição no Memorial de Aires tem dado margem à suposição que Machado de Assis, em seu último trabalho, não trata de questões histórico-sociais, mas apenas de aspectos da vida íntima e particular. Isto é absolutamente incorreto.
No Memorial de Aires, os tipos sociais representados pelas personagens pertencem todos, assim como o próprio narrador, à elite fluminense do final do Segundo Reinado: um fazendeiro do Vale do Paraíba, a filha do fazendeiro, o filho do comerciante de café, o sócio de banco, o desembargador. Ao fundo apenas, como sombras, os negros libertos da fazenda do Vale do Paraíba, Santa-Pia.
Os homens livres não proprietários, cuja situação complexa dentro da sociedade escravista o escritor vinha estudando atentamente em outras obras, estão ausentes, pois no “Memorial”, nenhum agregado, nenhuma jovem bela é cooptada pelo sistema escravagista. Toda a ação transcorre no interior de uma classe dominante ligada à Monarquia, classe que perdia sua função e que iria se amoldar a uma nova forma de exploração social: a lavoura decai, o fazendeiro morre, o corretor encerra os negócios, o diplomata se aposenta. Paira uma atmosfera de “décadènce” no ar onde, em reuniões íntimas, as personagens apenas tomam chá, jogam cartas, tocam piano, falam de outros e da Europa.
Ao incorporar as ideias da elite de seu tempo ao discurso literário, Machado de Assis faz da leitura do romance uma experiência histórica concreta. Para compreender o livro, o leitor tem de aprender a questionar o discurso narrativo, portanto a contestar a ideologia das elites, o que implica não concordar, no caso do Memorial, com a versão oficial da Abolição. Enquanto o conselheiro Aires tenta suprimir o juízo autônomo do leitor, o escritor procura criar um leitor independente e crítico.
Por outro lado, quando se esposa o obscurantismo do conselheiro e não a malícia machadiana, contribui-se, de uma forma ou de outra, para a preservação dos privilégios de classe que persistem até hoje, modificados ou não.
Logo, uma das características essenciais do Memorial de Aires é o compromisso de classe do narrador, numa sociedade escravagista no momento da Abolição formal da escravatura.
A feição social do diário íntimo do conselheiro Aires insere-se em relação a seus pares da classe dominante. Por isso, as infrações das personagens em relação a princípios, que elas enfaticamente assumem como seus, são trazidos ao leitor como atitudes naturais, geralmente emprestadas ao repertório de ideais liberais burgueses importados da Europa. Dois exemplos: o amor eterno de Fidélia pelo marido morto, que “terminará enterrado uma segunda vez” quando desposa Tristão, ou a vocação profissional e o apego à Pátria de Tristão, que quando a política e a glória em Portugal o chamam, deixa tudo e os “pais de empréstimo” e se vai.
As menções à Abolição, apesar de raras, conferem sentido histórico ao confinamento do romance à esfera da vida privada cuja lógica,então, é tratada dentro de uma lógica mais ampla, a da formação social do Brasil.
Veja-se, por exemplo, o registro da primeira soirée do casal Aguiar, que acontece no dia da promulgação da Lei Áurea: “A alegria dos donos da casa era viva, a tal ponto que não a atribui somente ao fato dos amigos juntos, mas também ao grande acontecimento do dia… Na verdade, (a alegria) era devida a carta ( do filho postiço ausente); como a liberdade dos escravos, ainda que tardia, chegava bem. Novamente os felicitei, com ar de quem sabia tudo”.
A prioridade dada por nossas elites aos assuntos particulares, em detrimento das questões públicas, interessou desde cedo a Machado de Assis. Na cena transcrita acima, é como se a Abolição não existisse para o casal Aguiar. Após um momento de surpresa, Aires — não sem a ironia de quem acusa defendendo, procura normalizar a indiferença do casal Aguiar, de tal modo que ela acaba sendo coroada por uma máxima filosofante: “Não há alegria pública que valha uma boa alegria particular”, dando ares de universalidade à legitimação de uma conduta particularista, antissocial.
Com efeito, o diplomata e Conselheiro Aires compartilha o desinteresse dos Aguiar pelo destino dos negros. Ao comentar a doação das terras de Santa-Pia aos libertos, ele se pergunta: “Poderão estes fazer a obra comum e corresponder à boa vontade da sinhá-moça? É outra questão, mas não se me dá de a ver ou não resolvida; há muita outra cousa neste mundo mais interessante”.
Mesmo quando o conselheiro demonstra simpatia pela Abolição, sua satisfação parece estar menos ligada à liberdade dos escravos do que à imagem do país — do ponto de vista da classe dirigente — diante das nações modernas: “Dizem que, abertas as câmaras, aparecerá um projeto de lei. Venha que é tempo… Mais de um jornal fez alusão nominal ao Brasil, dizendo que restava agora que um povo cristão e último imitasse aquele (EUA) e acabasse também com os seus escravos. Espero que hoje nos louvem”.
A duplicidade do conselheiro encerra sempre em si um elemento de cinismo, que convida o leitor menos ingênuo a uma espécie de cumplicidade acanalhada ou ao piscar de um olhar maroto com o velho Machado.
Acontece que desde a década de 70, a alta do preço dos escravos e a modernização das técnicas de beneficiamento do café haviam tornado o trabalho escravo cada vez mais caro e improdutivo em relação ao trabalho livre possibilitado pelos imigrantes europeus. A Abolição vinha libertar a nova oligarquia cafeeira de uma mão-de-obra excessivamente onerosa e mal adaptada às novas condições de produção. Por sua vez, as plantações de café do Vale do Paraíba, como as de Santa-Pia no “Memorial de Aires”, em processo de esgotamento, foram sendo progressivamente abandonadas pelos fazendeiros, que se dirigiram para os promissores campos de São Paulo ou para a Corte, em busca de cargos públicos, sempre muito bem remunerados.
No “Memorial de Aires”, o dramático êxodo dos libertos do Vale do Paraíba não recebe um comentário sequer do narrador. O fato é mencionado pelo desembargador Campos, a partir da perspectiva de ver os negros como ingratos e hipócritas em relação à antiga sinhá-moça: “Os libertos, apesar da amizade que lhe têm ou dizem ter, começaram a deixar o trabalho”.
Machado de Assis registra o êxodo dos ex-escravos das velhas zonas cafeeiras, e o faz dentro do quadro da indiferença e da ideologia das elites. O artifício da construção consiste em dar a palavra à classe dominante: o descaso pelos fatos ligados à emancipação dos escravos revela uma forma literária do verdadeiro significado da Abolição.
“Escravo Pancrácio” – crônica escrita por Machado de Assis, publicada no jornal Gazeta de Notícias, em 19 de maio de 1888 (livro “Bons Dias”), nos diz: “Pancrácio aceitou tudo: aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte, por me não escovar bem as botas; efeitos da liberdade. Mas eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo um impulso natural, não podia anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele continuava livre, eu de mau humor; eram dois estados naturais, quase divinos… Tudo compreendeu o meu bom Pancrácio: daí para cá, tenho-lhe despedido alguns pontapés, um ou outro puxão de orelhas, e chamo-lhe besta quando lhe não chamo filho do diabo; cousas todas que ele recebe humildemente, e (Deus me perdoe!) creio que até alegre”.
Retornando ao Memorial, ao criar um cronista particularmente descarado, o Conselheiro Aires, Machado potencializa o efeito de sua crítica social, deixando claro que a Abolição não modificaria a situação do negro, assim como não reduziria a possibilidade de abusos da classe dominante, e que a ideia que um negro pudesse ter acesso aos bens da sociedade era apenas uma mentira forjada pela elite, em benefício de si própria.
Aos olhos de Machado de Assis, a libertação dos escravos no Brasil era uma grande farsa.
Machado de Assis percebeu cedo que o fim do escravismo não traria liberdade verdadeira aos ex-escravos e que as velhas estruturas econômico-sociais, com algum rearranjo, sobreviveriam à Abolição. Conforme demonstra o trabalho de Roberto Schwarz, lá pelos anos 80, Machado abandona tanto a esperança de uma reforma interna do paternalismo como a perspectiva da possibilidade de superação das relações de dependência por meio do trabalho livre, passando a explorar, a partir das “Memórias póstumas de Brás Cubas”, sem mais qualquer tipo de freio ideológico, as virtualidades retrógradas e perversas do avanço do capitalismo no Brasil.
Machado desmascara as alforrias de última hora, desmistifica os principais nomes políticos ligados à elaboração e à aprovação da lei, inclusive o da Princesa Isabel, e prevê o advento de uma república oligárquica e branca, tanto quanto a república escravista da Confederação do Sul dos Estados Unidos.
Assim, visto que o 13 de Maio não afetou substancialmente as elites, nada mais realista que a indiferença do narrador e das personagens pelos acontecimentos ligados ao fim da escravidão. Em virtude da peculiaridade da matéria histórica e da maestria do romancista, o apagamento da Abolição potencializa sua presença. Na contramão da retórica abolicionista, Machado de Assis denunciou, a seu modo, com rara lucidez, a farsa da Abolição, cujo significado profundo ele compreendeu e dramatizou em seu último romance!
Vamos à narrativa: um proprietário decide alforriar seus escravos às vésperas da Abolição. O barão de Santa-Pia pertence à oligarquia cafeeira decadente do Vale do Paraíba. Libertar os próprios escravos, antes que o governo o fizesse, era uma questão de honra, o último recurso de que dispunha o proprietário para garantir a força simbólica do domínio absoluto sobre sua propriedade: “O que era seu era somente seu”, escreve Aires. Fez da liberdade de seus escravos uma concessão e não o resultado de uma exploração ultrajante e desmoralizadora. “Será a certeza da abolição que impele Santa-Pia a praticar esse ato, anterior de algumas semanas ou meses ao outro (o de 13 de Maio)?”
Voltando à alforria concedida por Santa-Pia, suas implicações conservadoras insistem no aspecto de que o liberto deve ser grato ao seu senhor. Logo, a alforria funciona como perpetuação dos vínculos da escravidão, que acabam sendo preservados também na prática. No “Memorial de Aires”, o futuro é o passado estendido ao infinito: “Estou certo que poucos deles deixarão a fazenda; a maior parte ficará comigo, ganhando o salário que lhes vou marcar, e alguns até sem nada”.
Com efeito, após a morte do barão, cinco semanas após a Abolição, Fidélia escreve aos Aguiar contando que os libertos continuam vivendo e trabalhando na fazenda. “Por amor da sinhá-moça”, afirma Tristão. “Livres com a mesma afeição de escravos”, escreve o conselheiro Aires, nos termos da ideologia de sua classe. “Ele é bom senhor, eles bons escravos”, assegura Fidélia ao conselheiro, referindo-se ao pai e aos cativos de Santa-Pia.
Sabemos que a realidade era outra. Sem ter para onde ir, pois não conseguiam competir com os imigrantes nas zonas rurais mais prósperas, precisando desesperadamente de dinheiro para morar e alimentar a si mesmos e a suas famílias, parte dos libertos do Vale do Paraíba permaneceu nas plantações ou retornou a elas após alguns dias de festa e perambulação pelas estradas: aceitavam qualquer quantia como remuneração por seu serviço; trabalhavam, como nos tempos de cativeiro, do nascer ao pôr do sol, sempre sob vigilância armada; e continuavam morando nos velhos alojamentos, as senzalas”.
Quando se trata de corresponder à suposta afeição dos negros, os parâmetros do paternalismo já não valem. O modelo passa a ser o das relações contratuais e impessoais, próprias da ordem burguesa. “Para quê?”, pergunta o conselheiro, agora nos termos do utilitarismo moderno, ao cogitar da hipótese de a viúva levar os ex-escravos para a Corte consigo. No mesmo espírito, Fidélia se desobriga de qualquer responsabilidade por seus destinos: “Custou-lhe muito fazer entender aos pobres sujeitos que eles precisam trabalhar, e aqui não teria onde os empregar logo”. Adotados conforme convém, o critério paternalista e o critério liberal, se alternam quase que a cada frase.
E, finalmente, vem dos lábios do Conselheiro, uma frase filosófica: “Costumes e instituições, tudo perece”.